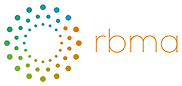Com o fim da COP30, que reuniu líderes mundiais em Belém, um ponto ficou evidente dentro e fora das mesas de negociação: não há transição energética possível — nem legítima — sem justiça ambiental e social. Enquanto governos e empresas anunciavam metas ambiciosas de descarbonização, manifestantes protestavam do lado de fora exigindo que essa transição não aprofunde desigualdades — como já ocorre em diversas regiões do Brasil.
No Nordeste brasileiro, especialmente nas áreas de implantação de grandes parques eólicos e solares, o contraste entre discurso e realidade é gritante. A chamada “energia limpa” tem avançado às pressas, mas sem avaliação adequada e sem o respeito às comunidades tradicionais – quilombolas e agricultores – que estão nesses espaços há gerações. O resultado é um modelo de transição energética que desorganiza territórios, desestrutura economias locais e compromete a saúde das populações.
Na Chapada do Araripe, por exemplo, estimativas apontam que mais de 13 mil pessoas terão de conviver com 665 aerogeradores espalhados por mais de 15 mil hectares. Agricultores familiares e produtores de mel e mandioca vêm sofrendo pressões territoriais, perda de áreas produtivas e contratos, muitas vezes, são assinados por idosos sem informações claras ou assistência jurídica. O Direito de Consulta, obrigatório e garantido internacionalmente, raramente é cumprido.
Os danos ambientais e sanitários se acumulam. As pás dos aerogeradores, feitas de fibra de vidro, liberam micropartículas que se depositam nos telhados e contaminam a água armazenada em cisternas, principal fonte de consumo no semiárido. Médicos locais relatam o aumento de problemas respiratórios sem causa identificada. O barulho contínuo dos aerogeradores — descrito como “infernal” durante a noite — tem provocado distúrbios do sono, ansiedade e uso crescente de medicamentos controlados, inclusive entre crianças.
Nas usinas solares, o impacto é outro, mas igualmente severo. Cada placa pode ultrapassar 70°C, formando grandes ilhas de calor em territórios já vulneráveis ao calor extremo e à seca. Projetos com centenas de hectares de painéis pioram a dinâmica térmica e reduzem a umidade do ar, contribuindo para o processo de desertificação da Caatinga.
Nada disso aparece nos estudos apresentados aos financiadores. A avaliação costuma se restringir a indicadores econômicos como o PIB municipal — incapazes de capturar desigualdades, doenças, conflitos territoriais e rupturas socioculturais que se estendem por décadas. O que não é medido não entra nos cálculos de viabilidade, e assim externalidades negativas seguem empurradas para as populações mais frágeis.
Avaliação não é obstáculo: é proteção. É o instrumento que pode impedir a reprodução de injustiças históricas, garantindo que os projetos considerem impactos sociais (especialmente de saúde pública), ambientais e culturais antes de serem implementados.
A transição energética não pode repetir o modelo predatório que historicamente marcou a exploração de recursos no Brasil. Ela precisa ser construída com participação, transparência, consulta prévia e respeito aos territórios — ou continuará concentrando riqueza enquanto distribui danos.
Uma transição justa não é apenas uma meta: é um compromisso civilizatório.
Ricélia Marinho Sales é doutora em Recursos Naturais, Professora da UFCG e pesquisadora do CERSA.
Márcia Paterno Joppert é engenheira (USP), Ph.D. em Avaliação e Diretora da Rede Brasileira de Monitoramento e Avaliação.
Esse texto foi publicado originalmente no Jornal do Dia